Festival do Rio 2023 | Dia 4
Atualizado: 19 de jun. de 2024
Manuela (Idem, 2023) | Argentina

Assim, como o brasileiro Sem Coração, um dos pontos altos dessa edição do Festival do Rio, Manuela, produção argentina rodada em Los Angeles, adota uma abordagem extremamente realista ao acompanhar a personagem-título (vivida por Bárbara Lombardo) tentando ganhar a vida na Cidade dos Anjos. Para isso, aceita um emprego como babá de Alma, filha de Ellen (Sophie Buhai), uma mãe solteira (ou “solo”) que vive confortavelmente num espaçoso apartamento. Muito atarefada, ela não possui tempo suficiente para se dedicar à menina, que teve através de fertilização in vitro (“hoje em dia não precisamos mais de maridos ou namorados”, ela diz em determinado momento).
Trata-se de um comentário sutil da diretora/roteirista Clara Cullen sobre a facilidade de ser mãe quando se tem dinheiro sobrando. Alma é como se fosse um bicho de estimação para Ellen, que esporadicamente cede ao impulso de aparecer para fazer um afago pouco antes de sair novamente. Manuela, no entanto, não faz julgamentos, atendendo a todos os pedidos da patroa sem fazer qualquer tipo de questionamento. A ela só interessa receber o dinheiro ao final do dia para enviar à filha Carmen, que ficou em seu país-natal com a avó.
Aliás, não só os motivos que levaram Manuela a se mudar para os Estados Unidos são nebulosos, como há um mistério envolvendo sua origem. A cada vez que alguém pergunta o país onde nasceu, ela cita uma nação sul-americana diferente. Sobre a mulher, sabemos apenas que divide uma casa com outras três imigrantes e esporadicamente visita a igreja de um televangelista latino. Ellen tampouco se interessa pelo passado da babá, limitando-se a perguntas protocolares como o tipo de visto (Manuela está nos EUA há dois meses, com o de turista), a experiência com outras famílias e o que fazer diante de emergências específicas. Ela, claro, se sai bem em tudo que é proposto.
Há também algum espaço para ilustrar a forma como o povo latino é visto nos Estados Unidos. “Se sua vida era boa, por que veio para a América?”, questiona Ellen num determinado momento. Para muitos estadunidenses, a simples ideia de um argentino, uruguaio ou boliviano vivendo feliz em sua terra, é absolutamente impensável. E aqueles que resolvem tentar a vida na “América” (como se o continente todo se resumisse ao país deles), são desprovidos de ambição, aparentemente talhados para serviços como o de empregadas domésticas, faxineiras e semelhantes.E embora Ellen demonstre simpatia, o roteiro não faz muita questão de retratá-la como uma exceção à regra supracitada.
Bárbara Lombardo, por sua vez, entrega-se de corpo e alma, oferecendo expressividade e bravura a uma personagem que se encaixa facilmente no arquétipo da trabalhadora, que aceita os serviços em excesso, de forma sofrida, visando um objetivo em longo prazo. Já Sophie Buhai faz um bom trabalho investindo nos sorrisos largos e na linguagem corporal despojada, estranhamente distante da postura que se espera de uma mãe.
Por mais eficiente que seja em suas inspirações no neorrealismo italiano, seguindo os passos de Roma e do Cinema dos irmãos Dardenne (ainda que menos estilizado), Manuela talvez soe linear demais aos olhos do público, que dificilmente ficarão marejados. Quando o roteiro finalmente resolve quebrar a rotina da heroína, apressa-se para chegar a uma conclusão, levando ao extremo o conceito de “recorte de uma vida” (estilo de filme que acompanha em detalhes o cotidiano de alguém por um espaço de tempo.
NOTA 7,5
Hit Man (Idem, 2023) | Estados Unidos

Exibido sob aplausos no Festival de Veneza, Hit Man chegou ao Festival do Rio em cima da hora, fazendo a alegria dos fãs do cineasta Richard Linklater (Antes do Amanhecer, Boyhood). Depois de assistí-lo, torna-se imediatamente incompreensível o fato de o longa-metragem ter sido exibido fora de competição em Veneza, um crime hediondo não apenas pela qualidade da produção, mas especialmente por Glen Powell, ator e dublê de 33 anos que finalmente recebe um papel de protagonista à altura de seu talento. Em sua quarta colaboração com o realizador cinco vezes indicado ao Oscar, Powell interpreta Gary Johnson, professor universitário que leciona psicologia e filosofia por meio-período e passa o restante do dia prestando consultoria para a polícia. Morando numa casa confortável com seus dois gatos (chamados Id e Ego), Johnson é também o narrador da história, oferecendo informações para o público como se estivesse num divã.
Sua vida muda repentinamente quando é escalado pela delegacia para assumir o lugar de um policial que acaba de ser suspenso por agredir adolescentes (“maldita cultura de cancelamento!”, reclama o recém-suspenso). Sua função? Fingir ser um assassino profissional para prender pessoas que estejam procurando alguém disposto a cometer um homicídio. Tímido e confortável na posição burocrática que possui, ele resiste, mas eventualmente acaba cedendo. É aí que o inesperado acontece, pois Gary se transforma completamente quando entra no restaurante para encontrar seu suposto “cliente”. Ameaçador, confiante e, o principal, absolutamente convincente, o professor impressiona seus superiores e cumpre a missão de realizar uma prisão, sob o pretexto de ter salvo uma vida.
Apesar de ter frequentado aulas de teatro na juventude, o fato de ter descoberto sua verdadeira vocação não passa apenas por interpretar papéis (ele se disfarça a cada missão, de acordo com o perfil de cada suspeito), mas sim por enxergar seu novo cargo como uma oportunidade ímpar de alimentar seu fascínio pela consciência e pelo comportamento humanos. Como acadêmico, ele se vê numa pesquisa de campo, não num caso de polícia. Dessa forma, ele pode observar de perto seu maior objeto de estudo: o ser humano, colocando em prática toda a teoria que leciona aos seus alunos (em sequências elucidativas que ainda incluem citações a Nietzsche e Kant).
O problema é que ele acaba se compadecendo com Maddison (Adria Arjona), presa num relacionamento abusivo e que busca os serviços do suposto matador de aluguel para dar cabo do marido. O encontro entre os dois gera um magnetismo instantâneo, tanto que Gary não hesita em recusar o serviço, aconselhando a moça a usar o dinheiro para sair de casa e buscar uma nova vida, longe de problemas. Um momento de fraqueza profissional que levanta um questionamento: ele realmente impediu um homicídio? Essa resposta ele eventualmente terá, pois acaba se aproximando a ponto de iniciar um relacionamento com Maddison.
Escrito pelo próprio Glen Powell ao lado do diretor Richard Linklater, Hit Man, por incrível que pareça, é baseado na história real de Johnson (falecido em 2022 aos 75 anos), relatada no artigo escrito pelo jornalista Skip Hollandsworth e publicado na revista Texas Monthly. Mescla de uma série de gêneros e subgêneros, é possível encontrar ecos de um legítimo noir, tropos abundantes de uma saborosa comédia romântica e pitadas do que de melhor a screwball comedy tem a oferecer. Essa mistura é uma especialidade de Linklater, diga-se de passagem, acostumado a navegar por quase todos os tipos narrativos descritos acima. É justamente o seu talento que faz com que a obra promova quase duas horas do mais puro e genuíno Cinema, capturando a atenção do espectador de forma arrebatadora enquanto desfila surpresas e reviravoltas.
Sim, porque Hit Man não é apenas extremamente divertido (cada disfarce de Gary rende uma generosa parcela de gargalhadas), há espaço de sobra para guinadas narrativas, uma proeza quando percebemos que o enredo funciona dentro de uma estrutura pré-estabelecida e bem conhecida pelo espectador. O melhor de tudo é que por mais que suspeitemos aonde a trama chegará, a jornada é muito mais gratificante do que o destino. Assim que Gary e Maddison se encontram pela primeira vez, por exemplo, não é difícil antever os passos que serão dados até o clímax. Nesse meio-tempo, porém, somos distraídos por eventos ora fascinantes, ora hilariantes. Estamos lidando com um professor de psicologia, afinal. Isso proporciona a Powell e Linklater brincarem com a metalinguagem, construindo momentos em que ator e personagem se unem na arte dramática.
E os argumentos são bons, pois nosso herói explica conceitos como Id, Ego e Superego para dissertar sobre o comportamento humano, enriquecendo o conhecimento do espectador enquanto dá dicas sobre o que acontecerá. Nessa brincadeira mortal engenhosamente arquitetada pelos roteiristas, a inocência é uma mera ilusão. É fascinante e assustador perceber as mudanças do protagonista e a forma como coloca em prática tudo o que ensina.
Powell, claro, agarra a chance de poder demonstrar toda a sua versatilidade, divertindo-se a valer no processo. Note a linguagem corporal que ele adota quando Gary está na faculdade e os modos espalhafatosos que assume nos trabalhos policiais, por exemplo, e você testemunhará um talento bruto nas telas, algo do qual só tivemos sinais, em filmes como Top Gun: Maverick (quando emulou com facilidade os trejeitos de Val Kilmer) e Irmãos de Honra. O texano é perspicaz ao evitar cair na armadilha de transformar Gary Johnson no típico nerd desajeitando, exaltando a inteligência e o raciocínio rápido do homem mesmo sob pressão. A porto-riquenha Adria Arjona não faz muito diferente, deixando para trás bombas como Justiça em Família e Morbius para abraçar um papel que se beneficia imensamente da química com o protagonista.
É uma pena que tamanho brilhantismo acabe sendo substituído por um desfecho artificial em sua tentativa de mastigar a moral da história para o público, culminando numa cena que parece extraída de um comercial de margarina. Isso, porém, acontece apenas nos minutos finais e não apaga a experiência complexa e diabolicamente divertida oferecida por Hit Man, um dos destaques deste Festival do Rio 2023.
NOTA 8,5
How to Have Sex (Idem, 2023) | Inglaterra/Grécia

Assim como a decisão de deixar o excelente Hit Man, filme anterior no quarto dia de maratona no Festival do Rio, de fora da competição em Veneza, igualmente incompreensível foi a decisão de premiar este How to Have Sex como o melhor filme da Um Certain Regard, mostra paralela do Festival de Cannes. Estreia da diretora de fotografia Molly Manning Walker como cineasta, a produção acompanha três grandes amigas londrinas numa viagem de férias a uma ilha Grega, onde deverão se entregar a festas, bebidas e rapazes enquanto aliviam o estresse da espera pelos resultados do vestibular. De longe, o filme soa como um daqueles espetáculos hedonistas tão comuns em filmes adolescentes. De perto, parece que estamos de longe...
Não estou julgando Tara (Mia McKenna-Bruce), Em (Enva Lewis) e Skye (Lara Peake) por procurarem uma oportunidade para se libertarem da pressão pós-estudos, elas merecem esse tipo de liberdade. O problema é que o roteiro, também de autoria de Manning Walker, julga ser mais profundo e complexo do que realmente é. As amigas não estão exatamente num divã e sutileza não é o ponto forte de Walker como escritora.
Para começar, McKenna-Bruce, rosto conhecido de produções voltadas para o streaming (especialmente a Netflix), oferece uma performance irregular como a protagonista. Para ilustrar as mudanças de Tara, ela adota uma composição de extremos, soando irritantemente escandalosa e expansiva no início (quando a história demandava apenas uma jovem animada com a possibilidade de perder a virgindade) e tornando-se relativamente interessante apenas na segunda metade, quando aos poucos vai se transformando numa adolescente calada e de olhares expressivos. Skye é a típica amiga inconveniente, fazendo piadas fora de hora, negligenciando a amiga enquanto entrega-se passivamente ao primeiro garoto que aparece e sendo incapaz de perceber o sofrimento do próximo. Em, por outro lado, é a figura mais interessante: lésbica, ela tem certa dificuldade para encontrar um par nas festas. Inteligente e compreensiva, é a ela que a protagonista recorre em seus piores momentos. Infelizmente, ela é pouco explorada pelo texto.
É só na metade final que How to Have Sex finalmente diz a que veio, buscando examinar a natureza do consentimento e retratando os perigos de uma relação supostamente relâmpago. Afinal, todos estão na tal ilha com o mesmo objetivo e alguns não lidarão bem com uma inesperada rejeição, ainda mais com bebidas alcóolicas na equação. Isso serve até para temperar os encontros chochos entre Taras e seus pretendentes, o inconsequente Paddy (Samuel Bottomley) e Badger (Shaun Thomas), um cavalheiro nato. Os dois jovens, aliás se complementam na perspectiva de Tara: enquanto o primeiro possui o tipo físico cobiçado pelas amigas, falta a ele a personalidade do segundo.
A câmera nervosa traz um aspecto visceral que amplifica a experiência oferecida pela produção, que mergulha de cabeça no universo das boates. Merecendo elogios por evitar sequências de sexo gratuitas, How to Have Sex faz de tudo para atingir o mesmo nível de complexidade de Nunca Raramente Às Vezes Sempre, obra-prima de Eliza Hittman, mas consegue no máximo se enquadrar no padrão dos filmes adolescentes contemporâneos. Ao menos antes dos vinte minutos finais.
NOTA 5,5
Tótem (Idem, 2023) | México
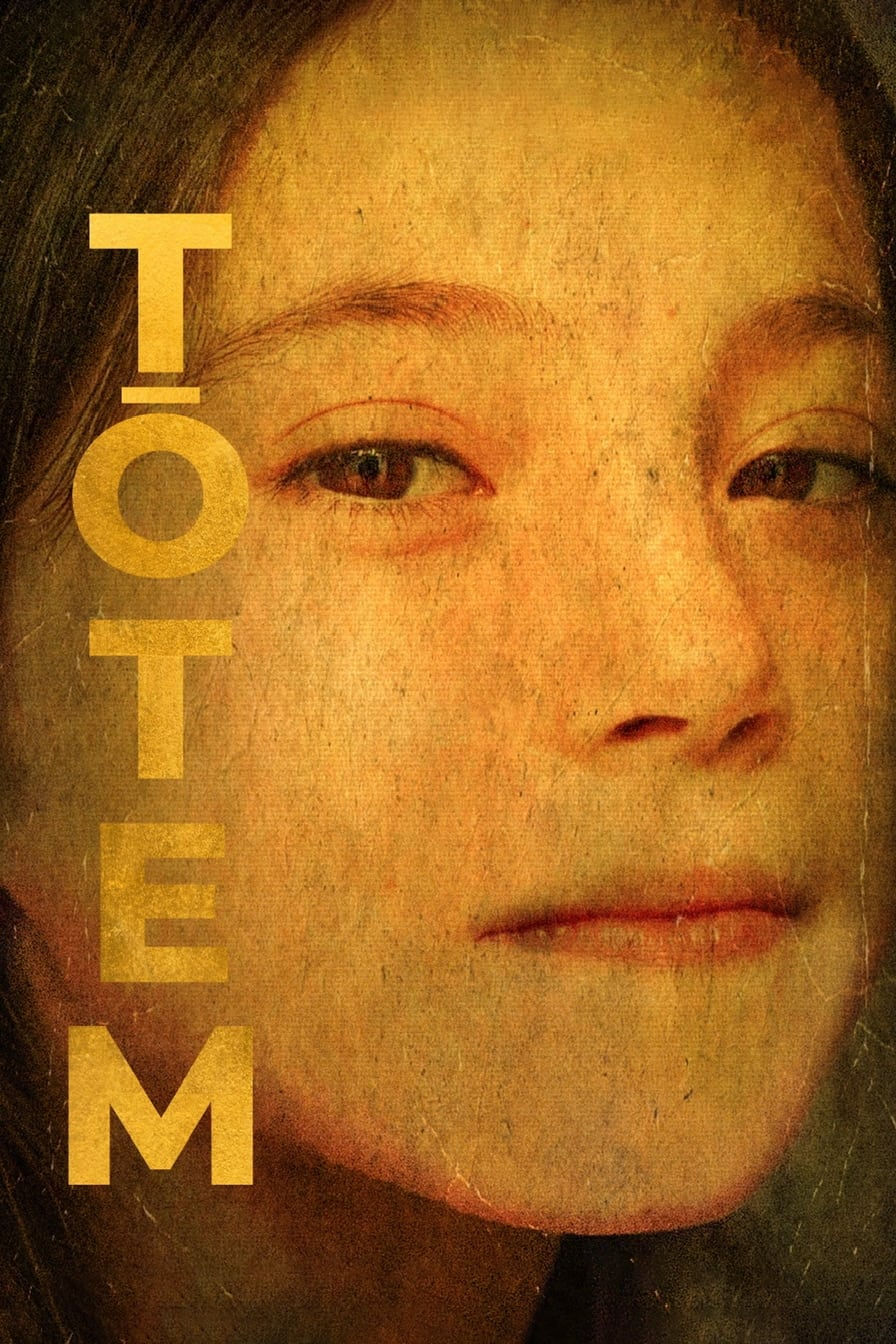
Tipo de narrativa que costuma predominar em festivais, Tótem é mais uma história familiar a chegar ao público, com destaque para a direção intimista e sem vaidades da diretora mexicana Lila Avilés, que lança seu segundo longa-metragem, cinco anos após o elogiado A Camareira.
A história se desenvolve em apenas um dia, quando uma família inteira se prepara para dar uma festa. Os personagens, embora numerosos, estão interligados pelo inexorável laço de sangue e cada membro ganha seus próprios momentos para brilhar. Assim, não é difícil simpatizar, por exemplo, com Sol (Naíma Sentíes) , jovem cuja visão de mundo é aquela adotada pelo roteiro. Também há o patriarca da família, que não deixa as sequelas de um câncer de garganta se colocarem como obstáculos em sua vida. Aliás, ele protagoniza alguns dos momentos mais divertidos da projeção, com seu mau-humor gerando gargalhadas, especialmente perante a agitação das netas.
Os momentos em que o filme se concentra nas crianças, inclusive, aproximam a produção de Projeto Flórida, ao menos em termos de perspectiva, já que não temos aqui a direção de Sean Baker e muito menos a presença magnética da pequena Brooklyn Prince. O problema é que a câmera nervosa e tão hiperativa quanto as crianças que persegue em cena, se distrai facilmente com ações das mais prosaicas. Embora haja beleza em momentos singelos como uma mãe sendo consolada pela filha após queimar a mão ao fazer um bolo, há material de sobra para extrair peso dramático da história, mas que parece não interessar à diretora e roteirista Lila Avilés.
Trata-se de um conformismo decepcionante e que gera a sensação de estarmos diante de uma série de premissas que jamais são desenvolvidas. A relação de Sol com a natureza e os animais, por exemplo, renderia um longa-metragem por si só, mas aqui serve apenas como um isolado acidente de percurso. Até o relacionamento conturbado de duas irmãs, que certamente ganharia destaque em qualquer outra obra, fica relegada ao terceiro plano, pois as implicações de uma discussão jamais são examinadas pelo texto.
Essa frustração passa muito pelo fato de que a cineasta é hábil ao aproximar o espectador dos personagens, criando uma conexão instantânea ao manter a câmera sempre muito próxima das pessoas envolvidas, mesmo em ambientes pequenos como um banheiro, o que contribui para o caráter intimista de sua abordagem. A montagem talvez peque por uma linearidade excessiva, um efeito colateral do naturalismo almejado e atingido pela obra. Já a fotografia, dominada por cores quentes, se beneficia do uso da iluminação. As sequências escuras, sombrias dentro do quarto de Tona (Mateo Garcia, de Deserto), contrastam imensamente com os ambientes bem iluminados e vivazes do restante da casa, impedindo que o espectador esqueça do que está realmente acontecendo lá e, consequentemente, com aquela família.
Alguns outros tópicos são levantados, como uma bem-vinda alfinetada no conquistador Pedro Alvarado, lembrado como "o responsável pelos massacres de Cholula e do templo maior de Toxcatl" e uma inesperada citação ao educador pernambucano Paulo Freire ("ensinar é uma via de mão dupla"), além de uma sequência hilária com uma religiosa que ilustra a espiritualidade da família. Não que a religião seja tratada de forma jocosa pela produção, muito pelo contrário, abrindo espaço para uma discussão interessante e agregadora do ponto de vista narrativo ("o tempo na Mesoamérica é cíclico"). Aliás, a procura por uma cura esotérica também serve para mostrar o desespero dos famililares, que após terem esgotado seus recursos financeiros, se prendem a tratamentos alternativos.
Com isso, Tótem decididamente assume um tipo de narrativa semelhante ao de Projeto Florida, outra obra dramática narrada a partir da perspectiva de uma criança. Mas enquanto o filme de Sean Baker oferecia outros predicados (especialmente ao conceber personagens mirins extremamente carismáticos e interessantes, Tótem se contenta com um singelo drama familiar de ambição mais modesta, oferecendo conforto e calor humano por 86 minutos, nada mais que isso.
NOTA 6




